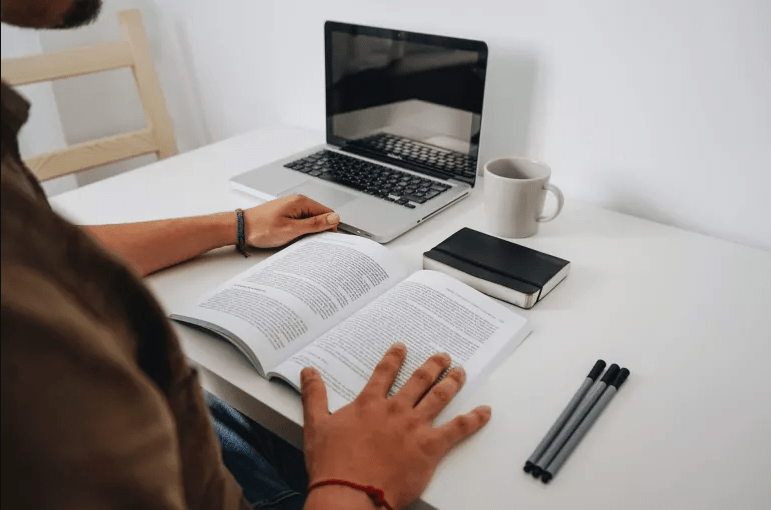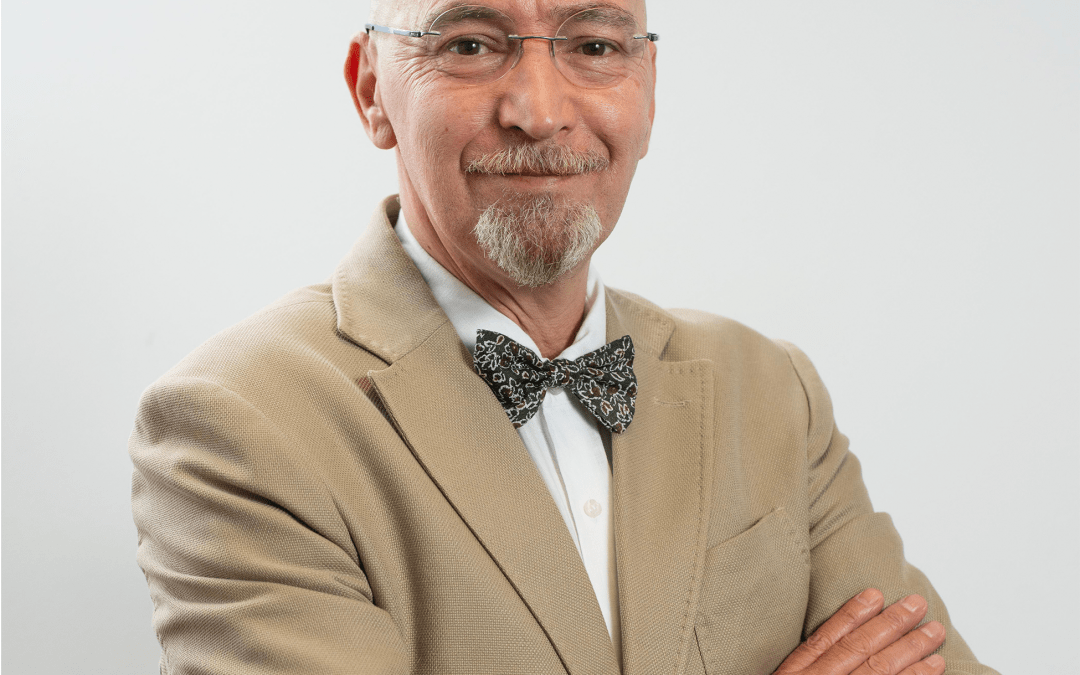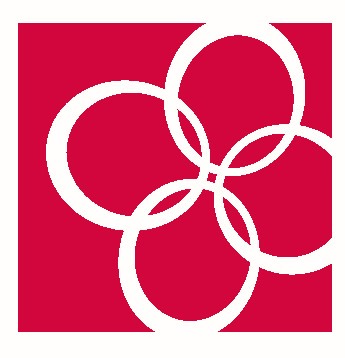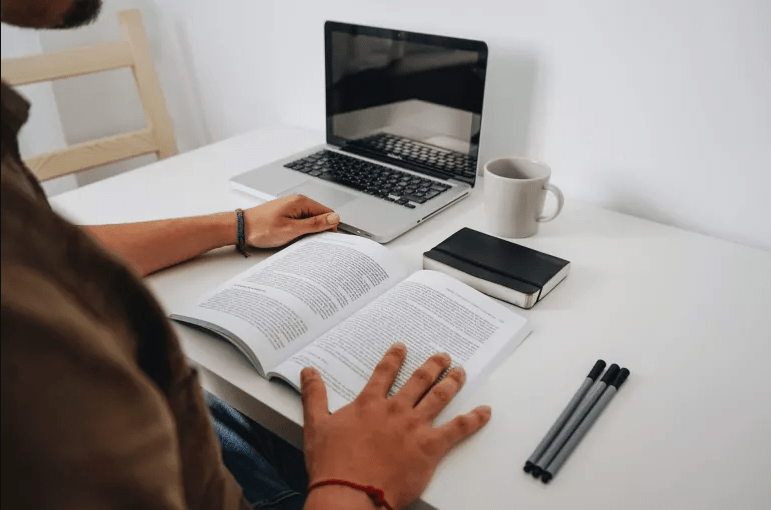
11 Novembro, 2020
Em linha com uma das prioridades da Comissão Europeia (CE) de tornar a Europa mais verde, a semana tem como foco a formação profissional em prol das transições verdes e digitais.
Portugal encontra-se no top 10 dos países que mais eventos e atividades tem promovido desde março (…) tendo já realizado 106.
A iniciativa conta ainda com 28 embaixadores, escolhidos pela Comissão, que representam 25 países. Teresa Damásio, CEO do Grupo ENSINUS, um conjunto de organizações empresariais dedicadas à educação e ao ensino de todos os níveis e graus, é a única portuguesa do conjunto de personalidades
Ler artigo completo

9 Novembro, 2020
O ser humano dedica a maior parte da sua existência ao trabalho, porque a atividade profissional representa um dos aspetos mais relevantes da sua vida, não apenas pela quantidade de tempo a ela consagrada, mas particularmente pelo significado psicossocial da mesma.
A forma intensa como atualmente se vive o trabalho, aliada à multiplicidade de fatores indutores de stress em contexto laboral, têm consequências nefastas para o indivíduo e se a sua exposição aos mesmos for continuada pode conduzir a estados de burnout.
A síndrome de burnout surge de forma insidiosa e pode levar à incapacidade total para o trabalho e a um sentimento de vazio que afeta cada pessoa na sua qualidade de vida e nas relações interpessoais e profissionais, manifestando-se através da exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional.
A exaustão emocional é a dimensão central do burnout e caracteriza-se pelo desgaste, perda de energia, fadiga e falta de entusiasmo nas atividades laborais, porque a pessoa deixa de conseguir dar o seu melhor e sente-se emocionalmente esgotada. É, ainda, marcada pela frustração e tensão entre os colegas, que leva a um misto de agressividade depressiva, manifestações neurovegetativas e a sensação de impotência perante si próprio e os outros.
A despersonalização, por sua vez, diz respeito aos sentimentos, atitudes e respostas negativas que geralmente são acompanhadas de irritação e falta de motivação que conduzem a um isolamento progressivo.
Por último, a perda da realização profissional diz respeito aos sentimentos de auto-desvalorização em que a pessoa se considera incapaz de realizar qualquer atividade profissional, apresentando uma baixa autoestima e uma grande incapacidade para suportar a pressão.
Os sintomas ligados ao burnout dividem-se em três categorias:
- Sintomas físicos, que incluem a insónia, dores de costas, falta de energia, fadiga crónica, tensão muscular, distúrbios de sono, enxaquecas, náuseas, gastrite e úlceras;
- Sintomas psicológicos, que englobam a depressão, ansiedade, obsessões, fobias, ideias suicidas, ideias paranoicas e o cinismo;
- Sintomas comportamentais, que abarcam a irritabilidade, conflitos interpessoais, críticas excessivas aos colegas, falta de vontade de trabalhar, comportamentos aditivos (álcool e drogas), absentismo e retirada precoce do trabalho.
A sintomatologia do burnout não traz consequências prejudiciais apenas para o indivíduo que dela padece, porque a diminuição da qualidade do trabalho executado, as constantes faltas e as atitudes negativas para com os colegas acabam por atingir toda a organização.
Neste âmbito, cabe aos gestores, particularmente aos responsáveis pela gestão de pessoas, delinear práticas de Gestão de Recursos Humanos (GHR) consistentes entre si e adaptadas aos diferentes colaboradores de forma a promover o envolvimento organizacional e comprometimento afetivo à organização.
Verifica-se assim, que um dos maiores desafios da GRH é, precisamente, a humanização do trabalho porque as pessoas não pretendem apenas um trabalho que lhes garanta a sobrevivência. Acima de tudo, procuram satisfazer as suas expetativas profissionais, desfrutar do seu trabalho e sentir-se bem no exercício das suas funções.
As organizações que empregam adequadamente as práticas de GRH fortalecem o vínculo organizacional e contribuem para um maior bem-estar dos seus colaboradores e consequentemente para melhores resultados organizacionais.
Deste modo, é fundamental implementar estratégias preventivas face ao burnout, nomeadamente: alterações (exequíveis) ao método de trabalho, flexibilização de horários, diversidade de tarefas, negociação de objetivos, aumento do suporte social percebido e ainda o incremento do trabalho de equipa.
Professora Doutora Rosa Rodrigues, docente do ISG, para a LINK TO LEADERS
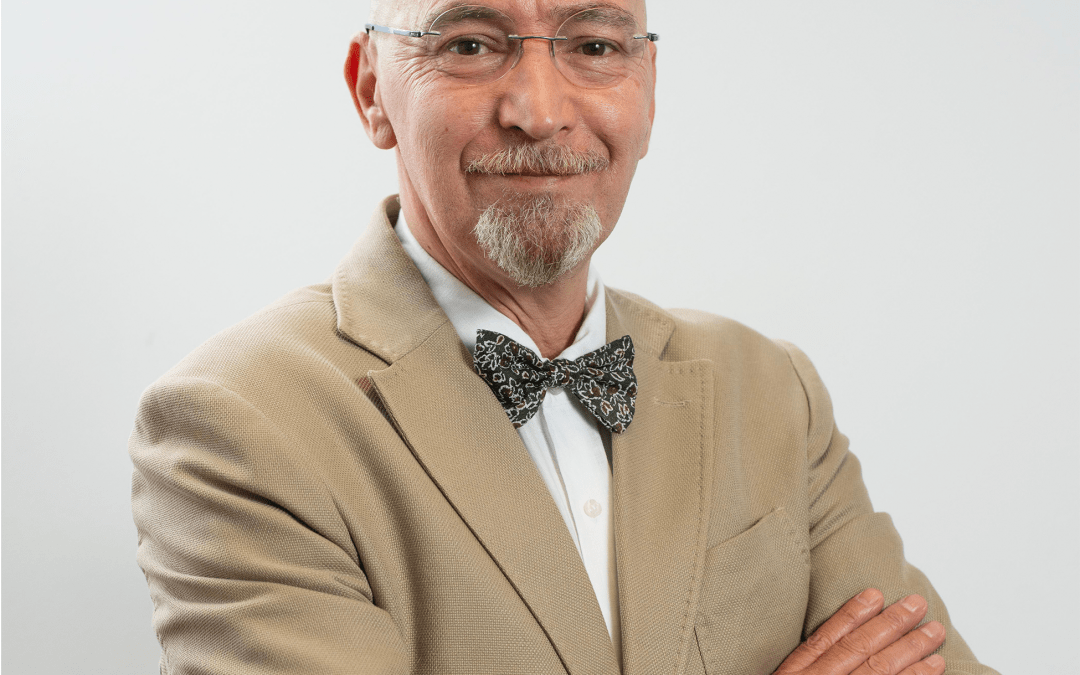
27 Outubro, 2020
As formas e mecanismos utilizados para lidar com o abuso do exercício do poder por parte dos líderes é um fenómeno importante no quadro da liderança mas que, curiosamente, tem sido pouco estudado. Falamos daquilo que os liderados podem fazer (e têm feito) para prevenir ou ultrapassar o abuso do poder pelos líderes.
Para manter e aumentar o poder os líderes são já conhecidos por redistribuir recursos de forma (mais) generosa (como acontece antes das eleições) ou por induzirem ameaças externas ao grupo para consolidar a sua coesão e a sua influência ou, ainda, simplesmente «comprando» apoio dos liderados através de práticas de corrupção, caciquismo e nepotismo.
Com o advento da linguagem e a sua diversificação surgiu ainda outra ferramenta poderosa para aumentar a capacidade de alcançar e manter o poder dos líderes a invenção das ideologias e tudo o que elas significam e permitem através do imprinting cultural e das práticas de doutrinação.
Sabemos que ao longo da história os líderes tanto criaram e usaram religiões para manter o poder como definiram regras de posição hereditária para beneficiar os seus parentes, numa indicação clara de nepotismo que de resto ainda hoje é praticado e consentido quando não mesmo desejado (nomeadamente através das monarquias, por exemplo).
Porém, a evolução humana também se fez acompanhar de, pelo menos, cinco dispositivos de defesa, nivelamento e anti exploração, que foram desenvolvidos pelos liderados para garantirem que fossem também beneficiados pela sua posição de seguidores, evitando assim serem apenas enganados e explorados.
O primeiro mecanismo consiste em limitar ou circunscrever o poder do líder seja no tempo (limitando os mandatos, por exemplo) seja a áreas onde estes provaram as suas capacidades diferenciadas em relação a outros membros do grupo;
O segundo foi a própria linguagem que permitiu aos liderados lançarem «rumores, falatório e mexericos», comentando e ridicularizando os líderes e desta forma mantendo-os sob o foco do escrutínio público.
O terceiro foi a rejeição ou o puro abandono dos líderes. Trata-se de uma arma poderosa para combater uma liderança ineficaz ou perversa porque, em termos evolutivos, o ostracismo teve sempre consequências graves na sobrevivência e reprodução. A ciência diz-nos que o cérebro regista a rejeição como equivalente à dor física.
O quarto mecanismo normalmente decorre do anterior; é a pura e simples recusa da liderança pela desobediência coletiva. É uma potente arma de retaliação face ao abuso do poder e normalmente leva a confrontos, mas a prazo leva inevitavelmente produz a queda do líder.
Finalmente, o quinto mecanismo para ultrapassar o abuso do poder é … o homicídio. Não fique surpreendido. Já nas sociedades ancestrais o indivíduo dominante corria o risco de ser morto e ainda hoje isso acontece o que faz com que alguns exercícios de presidência de alguns Estados sejam cargos arriscados e por isso exigem medidas ostensivas de proteção e segurança que vão das mais aparatosas às mais ridículas.
No fundo, estes mecanismos de nivelamento do poder foram e continuam ainda a ser estratégias adaptativas essenciais para a proteção dos liderados. As evidências históricas sugerem que tiranos e ditadores tenderão sempre a surgir quando os liderados forem incapazes de se protegerem contra esse tipo de pessoas e em particular da «tríade negra» isto é, da combinação dos traços de narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, num indivíduo que lidera.
No fundo a evolução continua a ensinar-nos como fazer, e se estes mecanismos continuam ativos é porque os seres humanos sempre abominaram lideranças abusivas. Pode levar mais ou menos tempo, mas os mecanismos continuam a funcionar.
Professor Doutor Paulo Finuras, Docente no ISG, para o LINK TO LEADERS

22 Setembro, 2020
Há 8 meses debatíamos a importância da sustentabilidade ambiental e da perecibilidade dos recursos naturais, da urgência de assegurar a identidade dos territórios.
Há 8 meses realçávamos o crescimento económico fruto dos resultados da atividade turística, assinalando como fundamental o reforço da sustentabilidade turística.
Há 8 meses identificávamos a necessidade de assegurar que a matéria-prima que fornece o turismo (natureza, património histórico, cultural e humano) não fosse desvirtuada.
Hoje precisamos de continuar com a agenda de há 8 meses, mas, cumulativamente, de reconquistar a confiança perdida e de reerguer os setores que compõem o turismo. Para esse desiderato precisamos de incrementar novas metodologias de abordagem que concretizem uma nova gestão do turismo.
Uma gestão que congregue a riqueza dos ecossistemas e a identidade dos destinos turísticos, que concilie o ordenamento do território com a atividade turística, que incremente as parcerias entre a iniciativa privada e política pública, e, essencialmente, que desenvolva uma prestação de serviços assente na qualidade, segurança e sustentabilidade.
Para que possamos reescrever as novas linhas de atuação, integrar a oferta turística e reformular as práticas e as políticas organizacionais, necessitamos de recursos humanos habilitados e empenhados em torno destes desafios.
Acreditamos que a chave para esta readaptação reside na motivação, na competência e na resiliência dos profissionais do turismo. Nesse sentido, a aposta na formação académica e profissional assume-se como fundamental para a árdua tarefa que temos em mãos.
O conhecimento e o reforço de competências são determinantes para o novo ciclo que o turismo enfrenta. A base para o sucesso desta missão passa por um triângulo que una as associações do turismo, o Estado e o ensino/formação. As escolas profissionais, os institutos politécnicos e as universidades estão, mais do que nunca, vinculadas à missão de formar recursos humanos comprometidos com o novo cenário mundial.
A congregação de sinergias e a atuação concertada das associações representativas do turismo, do Estado e da educação são a chave para o sucesso desta nova gestão do turismo.
Estamos cá para cumprir a nossa parte.
Professor Doutor João Caldeira Heitor, Secretário Geral do ISG, Coordenador da Licenciatura em Gestão do Turismo, para a Publituris

21 Setembro, 2020
O envelhecimento populacional decorrente da extensão da longevidade e da melhoria das condições de saúde, higiene e alimentação, tem vindo a traduzir-se num aumento da idade da população ativa, o que afeta a mão-de-obra nas organizações e reforça a necessidade de repensar as políticas de gestão de recursos humanos.
As últimas décadas têm sido caracterizadas por uma intensificação da força de trabalho e uma precariedade ao nível dos vínculos contratuais que nem sempre são favoráveis para os trabalhadores menos jovens, que passaram a ser alvo de exclusão face a determinadas políticas de emprego. Além disso, verifica-se uma falta de investimento na formação e no desenvolvimento das competências, que muitas vezes é justificada pelo facto de a mesma não trazer ganhos significativos, em termos de carreira, que compensem os seus custos.
A ponderação da idade é uma componente extremamente importante para a gestão dos recursos humanos porque é cada vez mais comum ter que lidar com uma população ativa envelhecida. Não obstante, o objetivo de qualquer organização é reter os trabalhadores que impulsionam o desenvolvimento e competitividade da mesma, independentemente da sua idade.
Neste sentido, as organizações deverão procurar, a curto e médio-prazo, estratégias eficazes para manter os trabalhadores mais velhos envolvidos, de forma a garantir que não ocorram perdas irreparáveis ao nível do saber-fazer, da experiência e da cultura que dificilmente se conseguem colmatar.
Deste modo, é fundamental apostar em estratégias de recursos humanos que valorizem opções de trabalho flexíveis, tarefas/funções diversificadas e estimulantes, ações de formação que estimulem a aprendizagem contínua, reconhecimento e respeito, pois são as práticas identificadas pelos colaboradores mais velhos como sendo as que mais contribuem para a sua permanência na organização.
O modo como cada organização gere a idade dos seus colaboradores depende largamente do seu setor de atividade, da sua estrutura, das características da gestão, dos recursos humanos envolvidos e, naturalmente, das tarefas desenvolvidas. Porém, verifica-se que os colaboradores mais velhos valorizam trabalhos complexos, nos quais possam fazer uso da sua experiência e das suas competências, nomeadamente através da participação em processos de tutoria, e acompanhamento aos colaboradores mais jovens. Ao reverterem o seu know how para o interior da organização sentem-se mais satisfeitos e envolvidos com o seu trabalho.
Sendo a satisfação um preditor da intenção de permanecer na organização e o desempenho um objetivo central para a eficácia organizacional, um dos principais desafios da gestão de pessoas passa por conceber o trabalho e as práticas de recursos humanos que se adequem às diferentes idades.
Verifica-se, assim, que os colaboradores mais jovens enfatizam a aquisição de competências e conhecimentos que aumentem a sua empregabilidade e garantam o desenvolvimento da sua carreira. Por outro lado, os colaboradores mais velhos tendem a valorizar a autonomia, o significado da tarefa, a complexidade do trabalho, o tratamento de informação e a resolução de problemas que permitam a utilização da sua experiência e conhecimento acumulado.
A gestão de pessoas deve alicerçar-se na dinâmica do mundo real, pois tem um papel crítico e indissociável do sucesso das organizações, quer em termos do seu desempenho, quer em termos da sua competitividade e diferenciação e como tal deve estar aberta a adaptações constantes nas suas práticas diárias.
Professora Doutora Rosa Rodrigues, Docente no ISG, para o Link to Leaders

11 Setembro, 2020
A Comunicação Integrada de Marketing é uma linha de pensamento que tem sido actualizada com estudos que integram no conjunto das técnicas de marketing já há muito conhecidas as áreas associadas ao Marketing Digital.
Neste âmbito, os especialistas começaram por integrar a Publicidade e as Relações Públicas considerando-as complementares e mais tarde foram estudando e integrando outras áreas como as Promoções de Vendas e a Organização de Eventos, incluindo recentemente as Redes Sociais e outras vertentes associadas ao digital.
Ao pensarmos na implementação de todo o processo do Marketing percebemos que não há muitas diferenças entre o tradicional e o digital. Este processo implica várias fases desde o planeamento estratégico, a orçamentação, a produção e a implementação até chegar à divulgação da mensagem junto do consumidor, independentemente da técnica de Marketing utilizada. A fase seguinte seria a de analisar se a campanha colocada na rua estaria a funcionar e a ter sucesso. O Marketing Digital apresenta fases comuns: o planeamento estratégico, a orçamentação, a concretização e a divulgação da mensagem junto dos consumidores.
No entanto existem três grandes diferenças: a primeira e que pesa nas decisões no âmbito das organizações está relacionada com a diferença do orçamento, o que significa que, os custos de uma campanha digital podem ser muito inferiores aos de uma campanha tradicional.
A segunda está relacionada com o factor do retorno e da forma como é possível apurar o sucesso de cada campanha. No âmbito do Marketing Digital é possível ver as estatísticas rapidamente e de forma contínua. No Marketing tradicional o processo é mais complexo e obriga a auscultar a opinião do consumidor.
A terceira implica a existência da Internet que tem de estar disponível para o consumidor. Por fim o circuito está completo se os consumidores possuírem dispositivos para observar a comunicação das marcas (computadores, tablets, telemóveis, consolas).
A similaridade nos processos não implica formas de concretizar iguais. Considerando realidades tão diferentes é natural que o digital exija outro tipo de tecnologia e formas de ser criativo, de trabalhar, de pensar adaptadas ao mundo digital, mas tudo isto pode significar integração para permitir a existência de um marketing único.
Mas continuo a acreditar que uma comunicação global das marcas necessita de um equilíbrio entre as áreas da comunicação clássicas e as que estão associadas ao mundo digital. Acima de tudo não podemos nem devemos esquecer a componente social. Não é possível imaginar a comunicação das marcas sem uma boa campanha de publicidade em Outdoor, sem as clássicas acções de Relações Públicas ou sem a Organização de Eventos. Estas últimas preenchem as necessidades que todos temos de sociabilizar presencialmente e que as tornaram bem-sucedidas.
Esta necessidade ficou bem patente nos últimos tempos em que o país ficou em confinamento e todos sentimos a falta da comunicação e da sociabilização, deixando claro que assim que for possível teremos de encontrar uma forma de continuar a comunicar presencialmente.
Considerando uma perspectiva integradora, vejo um conceito único de Marketing que tem evoluído paralelamente à sociedade. O Marketing surgiu e encontrou o seu lugar no mundo empresarial como o melhor aliado da Gestão e desenvolveu-se para dar resposta não só às necessidades dos consumidores como também às necessidades de comunicação das marcas.
Professora Dra. Paula Lopes, Docente e Coordenadora Científica do Mestrado em Marketing do Instituto Superior de Gestão, para a Revista Marketeer